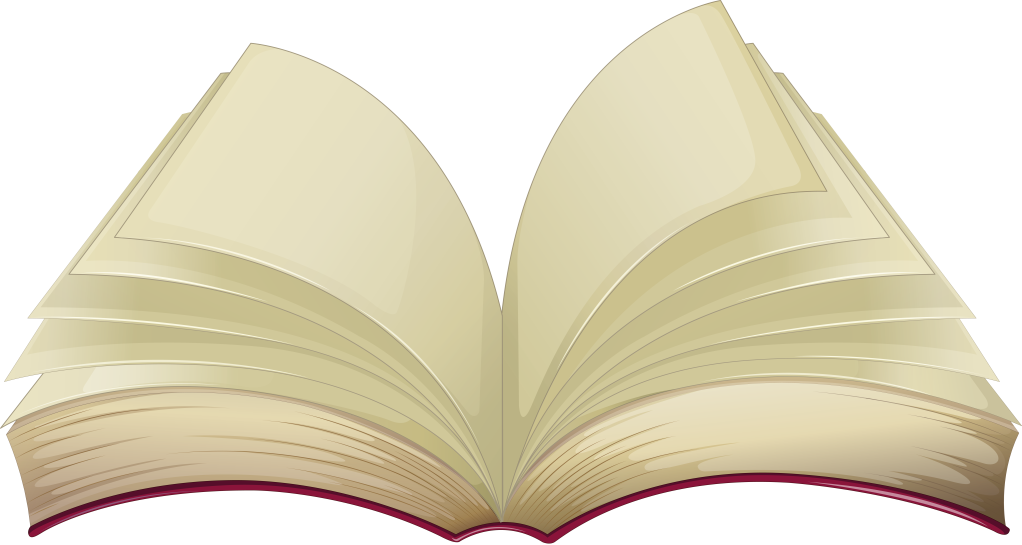Palestra proferida para o IEP-Instituto de Estudos Políticos da
Universidade Católica Portuguesa, em 11 de novembro de 2021.
Por Ricardo Henry Marques Dip
Não é infrequente deparar-nos em nossos tempos com algum uso intercambiável −ou, quando não, ao menos muito acercado− dos termos direitos naturais e direitos humanos, a cuja aproximação, além disso, concorre o termo direitos fundamentais. Alguns concebem os direitos fundamentais sob o modo de uma realização histórica dos direitos naturais; outros referem-se às perspectivas iusnaturalistas dos direitos humanos; há quem entenda que a expressão mesma direitos humanos é apenas um modismo contemporâneo, porque seria ela um sinônimo do termo direitos naturais; há ainda quem seja proclive a suprimir a referência aos direitos naturais, inclinando-se simpliciter a substituí-la pelo termo direitos humanos; ou, encerrando essas indicações recrutadas a título meramente ilustrativo, há como que um positivismo iusnaturalista −ou seja, um positivismo de direitos naturais, reduzidos a serem só possivelmente os direitos fundamentais expressos nos ordenamentos particulares. Tenha-se ainda em conta que, desde a segunda metade do século XX, uma parte considerável do pensamento católico −não só o dos leigos, mas também o de uma parcela não negligenciável de integrantes da hierarquia eclesial− inclinou-se à defesa e à promoção dos direitos humanos, fenômeno que José Miguel Gambra designou como o batismo desses direitos; muito longe está-se, pois, da condenação que o Papa Pio VI, na Encíclica Adeo nota (23-4-1791), infligira aos direitos humanos da Declaração francesa de 1789 por serem “diciassette articoli (…) contrari alla religione e alla società”, e às sucessivas impugnações pontificais desde a Quanta cura e do Syllabus de Pio IX, passando pelas acusações de Leão XIII à civilização moderna, pela doutrina contramodernista do Papa S.Pio X −assinaladamente na Encíclica Pascendi e ao condenar o movimento do Sillon−, até chegar, em meados do século XX, às reiterações críticas do Papa Pio XII, tal esta passagem, a título ilustrativo, da Alocução destinada aos juristas italianos, em 6 de novembro de 1949: “L’errore del razionalismo moderno è consistito appunto nella pretesa di voler costruire il sistema dei diritti umani e la teoria generale del diritto, considerando la natura dell’uomo come un ente per sè stante, al quale manchi qualsiasi necessario riferimento ad un Essere superiore, dalla cui volontà creatrice e ordinatrice dipende nell’essenza e nell’azione”.
Vem a propósito do tema a distinção desfiada por Antonio Perez Luño, que, sem desconhecer o usus loquendi −que leva a uma sinonímia prática destes termos direitos humanos, direitos fundamentais e direitos naturais−, chega, no entanto, a uma proclividade doutrinal e normativa em corresponder o termo direitos fundamentais para denominar os direitos naturais positivados no âmbito interno dos vários estados, ao passo em que o nome direitos humanos seria mais usual para os direitos naturais positivados nas declarações e convenções internacionais. Essa referência de Perez Luño sugere reconhecerem-se os direitos naturais como conteúdo quer dos direitos fundamentais, quer dos direitos humanos; e em dada medida isto não consona com a realidade, porque fosse esse conteúdo nota absoluta para essas distinções terminológicas, já não se saberia por quais motivos, aqui num único exemplo, o direito de antena, previsto na legislação constitucional portuguesa, pôde já estimar-se fundamental.
Sem embargo de uma sobreposição factual frequente de hipóteses de direitos que a um só tempo se considerem naturais, humanos e fundamentais, não parece possa afirmar-se sua equivalência essencial. Essa impossibilidade pode escancarar-se num exemplo gráfico, quando se tenha em conta que, à altura da Declaração universal dos direitos humanos, pela Organização das Nações Unidas, em 1948, a inviolabilidade da vida humana era tida por direito inalienável do homem, ao passo em que agora, no espectro dos chamados direitos humanos reprodutivos, incluem alguns um suposto direito humano ao aborto, pondo em manifesto xeque a identificação absoluta dos direitos humanos com os direitos naturais. Se percorrermos, além disso, algumas indicações da série que, de direitos humanos fundamentalizados em diferentes países, recolheu o pensador argentino Juan Fernando Segovia, vamos encontrar desde o direito à prática esportiva, à ginástica e à atividade física (em Cuba, Gana, Nicarágua, Portugal, Suíça, Turquia e Uganda) até os direitos específicos dos artistas (no Panamá, na Turquia); do direito dos inquilinos contra alugueres abusivos (na Polônia e na Suíça) ao direito dos concubinos em equiparar-se às famílias legalmente constituídas (em Angola, no Equador, na Guatemala, em Nicarágua, no Paraguai); dos direitos dos cientistas (na Hungria), aos quais se outorga exclusividade para decidir em questões de verdades das ciências, ao direito do ócio (na Espanha, na Holanda, no Peru); do direito ao regozijo cultural e social (na Bélgica) ao direito contra a fome (na Nicarágua); do direito de acesso à informação eletrônica (na Grécia) ao direito de acesso às bibliotecas (na Libéria), etc.
Dostoievski, nas páginas de Os demônios, profetizara de algum modo a trivialização dos direitos humanos, ao dizer que seu mínimo era o de possuir um guarda-chuva. Não se recuse, é verdade, que do fenômeno atual dessa banalização provenha a vantagem de ter contribuído a uma dada consciência popularizada acerca do direito −ou, sobretudo e mais exatamente, dos direitos (subjetivos)− e até ao de sua elevação a um plano de supralegalidade. Todavia, os tributos que se pagam por essa estendida popularidade são o da avulsão de muitos novos direitos humanos e o da cada vez mais notória erosão de seu consenso de base.
Pode pensar-se, em abono dessa eclosão de novos direitos humanos, que seu florescimento depois da Segunda Guerra Mundial correspondeu a uma reação iusnaturalista aos crimes de Estado perpetrados sobretudo −mas não só− pela Alemanha nazista, e decerto não faltarão bons motivos para diagnosticar alguns signos do antigo direito natural genuinamente cristão nesta retomada contemporânea da ideia de substantividade universal do direito. Calha, entretanto, que esses signos de enraizamento dos direitos humanos à concepção (que pode dizer-se) clássica do direito natural merecem uma prudente aproximação distintiva, porque, se bem seja fato que o rol dos direitos catalogados, por exemplo, em 1948, na Declaração universal da Organização das Nações Unidas, não conflite com as noções próprias do iusnaturalismo tradicional, essa conformidade expressiva emergiu no plano de um consenso meramente prático, assim o admitiu Jacques Maritain, afirmando que esse concerto sobre os direitos humanos apenas se concluíra com a condição de que ninguém perguntasse sobre seu por quê. Era, pois, de todo adivinhável que, mais cedo ou mais tarde, símile consenso não fundacional levasse paulatinamente a resultados dissonantes entre si. Bastaria percorrer os nomes da comissão de expertos que a Unesco recrutou para elaborar o catálogo de direitos humanos da ONU, e, prontamente, ver-se-ia por notório que seu consenso se apoiava em um ecleticismo fundacional, com a consequente prognose muito reservada quanto a seu êxito, Com efeito, a consideração de que a ideologia dos direitos humanos os converteu numa espécie de leito de Procusto (na metáfora de Contreras e Poole) parece dar bastante razão aos que desfiam crítica a Bobbio e Maritain por entenderem ser apenas de praticarem-se os direitos humanos, sem que importe justificá-los (assim, Danilo Castellano).
Não é já exagero falar em diáspora fundacional dos direitos humanos e até cabe entender, posta essa pluralidade de seus alicerces teóricos, o motivo pela qual esses direitos terminariam, como terminaram, por fundamentalizar-se, especialmente na esfera constitucional, suprindo a intensa labilidade de suas raízes movediças e, em muitos aspectos, contraditórias entre si. Ou seja, a multiplicidade (tantas vezes) conflitiva de fundamentos acarretou o aperturismo conceitual dos direitos humanos atuais, e sua livre determinação objetiva fomentou a busca de alguma sorte de fonte, ainda que meramente manifestativa, como se dá com sua positivação particular nas constituições dos estados. Se essa fundamentalização, todavia e por mais que em não poucas vezes afeiçoada a proclamações de sua aceitação mundial, pôde exprimir, per accidens, alguns direitos efetivamente universais, o fato é que, hoje, o mundo convive com uma nacionalização dos direitos humanos, que não parece ter mais limites para conterem-se do que a só imaginação criativa de quem tenha poderes para impô-los ou reclamá-los como exercício irrestrito da autonomia individual, é dizer, da liberdade negativa.
Seria injusto, é verdade, recusar algum mérito no projeto de restaurar uma ética para instruir e animar um direito que, sob a pauta ideológica do normativismo da primeira metade do século XX, clausulara-se aos valores, e deve louvar-se a superação teórica da ideia −como a referiu Radbruch− de que “ordens são ordens”, de que “a lei é a lei”, pois essa concepção de que a lei valia por ser lei “foi a que deixou sem defesa o povo e os juristas contra as normas mais arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas”. Bem por isso, ao chegar a seu quinto minuto de filosofia pós-guerra, Radbruch advertia que “há também princípios fundamentais de direito que são mais fortes do que todo e qualquer preceito jurídico positivo”.
Sem deixar, pois, de admitir o bem que havia na reação antinormativista dos meados do século XX ao buscar incluir no gênero normativo a classe dos princípios, normas finalísticas, destinadas ao melhor dos mundos possíveis, o fato é que essa busca ficou a meio caminho: sua visão de uma ordem jurídica universal contentava-se com uma visão racionalista do direito natural, cujos supostos exatamente reincidiam num positivismo substituinte do anterior. Talvez seja de fato possível diagnosticar uma síndrome que parece acometer parcela considerável dos juristas, nisto que incapazes de perceber o direito à margem das letrinhas dos diários das leis, e isso poderá explicar o motivo de a proclividade especulativa refratária ao normativismo kelseniano se ter acomodado à ideia de princípios transpositivos, é dizer, de algum modo indeterminados, mas postos o mais possível a salvo de intervenções ablatórias: daí a atribuição de força normativa às constituições, imputando-se ao novo direito constitucional o papel que o iusnaturalismo dito clássico reservara ao direito natural. Enfim, os velhos segmentos do direito subconstitucional não somente passaram a subordinar-se às constituições, senão que, gradativamente, inclinaram-se a sujeitar-se a ela mais e mais, na medida em que elas paulatinamente se tornaram extensas e difusas, subtraindo espaços normativos que antes eram próprios das órbitas infraconstitucionais.
Essa constitucionalização ou fundamentalização de princípios, por mais tentasse resguardá-los contra interferências supressivas no plano legislativo, perseverou sob o domínio da livre determinação de conteúdo dos direitos humanos, o que passou a sugerir procedimentos de substantivação por um órgão jurisdicional que completasse as normas abertas e garantisse, assim, esses direitos humanos até mais além dos propriamente tornados fundamentais. Esse órgão judicial, em palavras de Cristina Queiroz, operará ao modo de um “substituto funcional da Revolução”, transmudando, de fato, a supremacia legicêntrica em uma supremacia judicial, escorada nas sentenças dos tribunais.
Assim essa tendência de fundamentalização dos direitos humanos −ou seja, sua constitucionalização em um grau de superioridade formal no ordenamento jurídico−, ao desviar-se pela trilha da codeterminação judiciária tinha de redundar logicamente no numerus apertus dos direitos humanos, de modo que não apenas as constituições estariam aptas a, formalmente, recepcionar novos direitos fundamentais −que não cessam de ter novas gerações ou dimensões−, senão que, além disso, haveria, como já há, o reconhecimento de direitos fundamentais não constitucionalizados. Se, de uma parte, pode pensar-se em que o novo constitucionalismo corresponderia a uma forma histórica de ressurgimento do direito natural, por meio da positivação de princípios referíveis à dignidade da pessoa humana, cabe, de outra parte, considerar se a reserva estatal de determinação e sobredeterminação das normas não levaria apenas, na expressão de Robert Dahl, a um “novo normativismo”, a um normativismo de sistema aberto, no qual as normas são ora mandatos precisos e claros −equivale a dizer, são regras−, ora, diversamente, mandatos incompletos, princípios; mas sempre normas. Ou seja, tem de perguntar-se se o novo direito natural, com sua roupagem de direitos humanos, não é já somente uma espécie de positivismo, o positivismo (agora, sobretudo) judicial, em que o direito se ostenta como um grande código revestido por togas.
Não parece, entretanto, que se possa resolver o tema dos direitos humanos com um simples acordo em torno de conveniências práticas ou mediante sua positivação em leis humanas ou por via judicial. É que, com rigor, os direitos humanos devem fundar-se, de algum modo, objetivamente, na natureza humana, e isto demanda um acercamento metafísico e não um consenso ou uma imperação de vontades ocasionais, porque a falta de ancoragem numa base objetiva universal leva, com maior ou menor rapidez, à anarquia ou ao absolutismo.
E assim parece bem que, em relação ao direito natural clássico, distingam-se os atuais direitos humanos menos por alguma consonância ocasional de sua listagem com as res iustæ da ética iusnaturalista, mas por meio de uma resposta fundacional ao problema antropológico: quæ sit hominis natura, para aqui repetir a interrogação de Cicero em De finibus bonorum et malorum. Em outras palavras, o que decidiria sobre a caracterização dos direitos humanos estaria posto na definição do homem: “la natura o l’essenza del diritto [disse o Papa Pio XII] non può essere derivata se non dalla natura stessa dell’uomo”. Se essa definição do homem é a de um ente apenas material e com vontade autônoma, tem-se aí a consequente configuração dos direitos humanos ao modo imanentista e voluntarista −o que se acomoda à predominante expressão contemporânea desses direitos; se, diversamente, definir-se o homem como pessoa dotada de corpo e alma espiritual, entendendo-se a espiritualidade da alma não somente como uma faculdade racional, mas também como um sujeito que é imagem e semelhança de Deus, os direitos correspondentes apresentam-se como oriundos de um princípio transcendente.
Decerto, entretanto, não bastaria uma referência nominal à natureza humana −em que se assentam a doutrina do direito natural clássico, mas, não diversamente, ideologias de variado espectro e até opostas entre si, como as de Locke, Hobbes e Rousseau. Tem nisto muita razão Juan Fernando Segovia, ao dizer que, nos tempos pós-modernos, “el genio inventivo sigue alimentando nuevos derechos para un ser humano que no ha terminado aún de moldearse a sí mismo”. A solução real do problema parece estar, designadamente, em decidir ou pela imanência ou pela transcendência da natureza humana.
O confronto entre esses modelos pode estampar-se nas figuras respectivas do homo imago hominis e do homo imago Dei, com suas consequentes antropologias. É porque, no homem que se entroniza como seu próprio e bastante modelo, ao perder-se o reto conhecimento do que é o homem, do que é a natureza humana e, de modo primal, sua vocação transcendente, perde-se também o reto conhecimento do direito, assim pareceu ao magistério de Pio XII, “le cose divine ed umane, che secondo la definizione di Ulpiano formano l’oggetto più generale della giurisprudenza, sono così intimamente congiunte, che non si possono ignorare le prime, senza perdere la esatta valutazione delle seconde”.
Vários embates, no fim e ao cabo, parecem desiludir uma equivalência essencial entre os direitos humanos atuais e o direito natural clássico: os enfrentamentos do imanentismo ao transcendentalismo, do voluntarismo à prelação do intelecto, da autonomia ética à heteronomia, do subjetivismo ao realismo temperado. Uma personagem de Fiódor Dostoiévski, em Os demônios, Kírillov, resume, graficamente, esses embates: “É um absurdo alguém reconhecer que Deus não existe e no mesmo instante não reconhecer que é um Deus…”, e talvez, quanto à esfera do direito, seja possível, sobre a divergência entre fundamentos estritamente antropológicos e fundamentos teocêntricos e teotrópicos, reconstruir essa sentença de Kírillov: “É um absurdo alguém negar que Deus seja o fundamento último do direito e no mesmo instante não reconhecer que os direitos não sejam mais do que a liberdade humana ilimitada de quem possua a potestade de os impor ou exigir”.